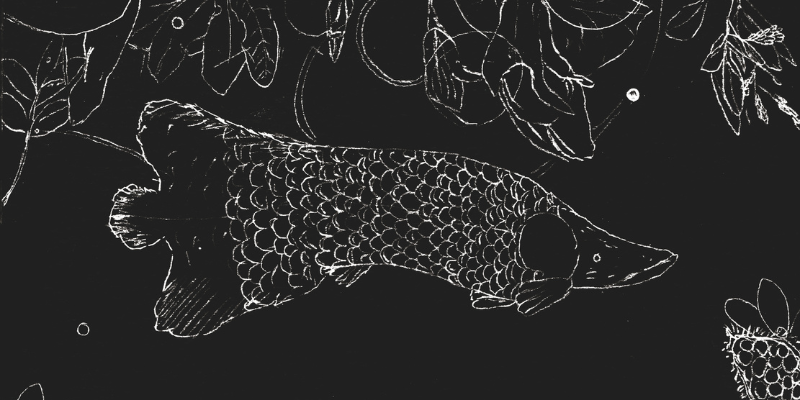
Leia a edição de AGOSTO/25 da Revista E na íntegra
A primeira vez em que uma classe formada exclusivamente por indígenas se graduou na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi em maio deste ano, no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), em São Gabriel da Cachoeira (AM). Em nota, a instituição de ensino superior celebrou: “esse é um marco para a valorização das epistemologias indígenas como base legítima de ciência, cultura e educação, conectando gerações e fortalecendo a autonomia dos povos originários no coração da Amazônia”. A declaração reforça o fato de que os saberes dos povos originários sejam anteriores às ciências produzidas pelas universidades, uma vez que tais conhecimentos acerca da terra, das plantas, dos animais, das estrelas, dos rios, ecossistemas, dentre outros campos, são milenares. O que é recente, no entanto, é a legitimidade científica desses saberes e o respaldo da academia.
“Para enfrentar esse genocídio indígena, nós, como pesquisadores indígenas letrados, estamos sendo os interlocutores das diversidades de saberes tradicionais. (…) Somos uma ferramenta para rabiscar os saberes tradicionais e pôr no papel para que os mesmos possam se conectar com as demais ciências. Não basta sabermos ler ou escrever, precisamos do saber-fazer”, defende Elizângela Baré, liderança da Terra Indígena Cué-Cué Marabitanas, em São Gabriel da Cachoeira (AM), licenciada em sociologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e doutoranda em saúde pública na Universidade de São Paulo (USP).
Esse “saber-fazer”, ferramenta descrita pela socióloga, é aplicado na proteção dos saberes tradicionais diante, por exemplo, da usurpação de tecnologias ancestrais de extração e preparo de sementes e raízes pela indústria farmacêutica. Então, “como garantir que os conhecimentos das sociedades tradicionais sejam respeitados, inclusive recompensados, pelo uso científico em grandes laboratórios farmacêuticos ou de qualquer outra ordem?”, questiona o ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira. Para o autor de Democracia tropical: Caderno de um aprendiz (2017), “de modo geral, os conhecimentos tradicionais não são reconhecidos, eles são apropriados sem conhecimento das comunidades”. Além disso, adverte: “as comunidades tradicionais têm muitas dificuldades para ir aos tribunais a fim de garantir os seus direitos. Nem sempre têm conhecimentos adequados para isso, ou recursos para mobilizar advogados”.
Nessa interlocução entre tecnologias ancestrais e ciências, Baré e Gabeira articulam reflexões, análises e preocupações.
Interlocutores dos saberes tradicionais
POR ELIZÂNGELA BARÉ
Esse território que chamamos de Brasil é um país racialmente diverso. De acordo com o Censo de 2022, a população brasileira era de 203,1 milhões de pessoas, das quais 55,5% se identificavam como pardos ou pretos, 43,5% como brancos, 0,8% como indígenas e 0,4% como amarelos. A pequena proporção de indígenas autoidentificados reflete a violação de seus direitos e uma história de genocídio contra vários grupos étnicos.
Quando começo com esse rabisco assim, é para relembrar como fomos alocadas pelo Estado brasileiro, sempre à margem, o que nos causou vulnerabilidade e fez com que diversos povos indígenas fossem silenciados. É no interior disso que se encontra um conjunto de saberes tradicionais – culturas, danças, línguas, artesanatos, mitologias, cantos, hábitos alimentares, plantas medicinais – e a conexão com a Terra.
Para enfrentar o genocídio indígena, nós, como pesquisadores indígenas letrados, estamos sendo os interlocutores das diversidades de saberes tradicionais. Hoje nós somos uma ferramenta para rabiscar os saberes tradicionais e pôr no papel de modo que se conectem com as demais ciências. Não basta sabermos ler ou escrever, precisamos do saber-fazer.
Trago aqui uns dos exemplos sobre os saberes tradicionais do povo a que pertenço, o Baré, das famílias linguísticas Aruak/Arawak. Trata-se do Kariãma/Cestos de conhecimentos nas literaturas de “Ritual da Moça Nova”, um conjunto de aprendizados dos saberes femininos que acontece por meio da oralidade, portanto, exemplo do saber-fazer. No Kariamã, os mais velhos(as), da nossa comunidade, conhecidos como anciãos(ãs), pajé, parteira, raizeiros(as), são os responsáveis por repassar os saberes e os conhecimentos. Isso ocorre por diversas vozes.
Para mim, isso está nos cestos de conhecimentos que compõem um território que foi invisibilizado pela colonização, apagado pelo capitalismo, manipulado pelo poder. Os cestos de conhecimento podem ser vistos hoje como uma escola viva por não estar entre quatro paredes, nem em laboratórios com ar-condicionado, nem em livros ou em pendrive ou em material didático de uma escola.
Os saberes tradicionais são parte desses cestos de conhecimentos, assim, o mesmo é um conjunto composto por maloca, roça, quintal, caminhos de casarias, rios, lagos, montanhas e florestas. Os professores são os nossos pais, irmãos(ãs) mais velhos, avós, avôs, pajés, parteiras e raizeiros. Para validar os saberes e os conhecimentos, a menina, depois da reclusão, vai praticar o saber-fazer, que ocorrerá por meio dos percursos dos caminhos das roças, nas margens dos rios, ao ticar os peixes, no preparo da plantação das roças, ao confeccionar os artesanatos, no manejo das plantas medicinais, seja dentro da floresta, em frente à sua casa ou no quintal.
Os saberes tradicionais estão vivos nos corpos que compõem o território. Para nós, indígenas, ao manejarmos as roças, revivemos os nossos saberes, da mesma forma quando compartilhamos os conhecimentos sobres plantas medicinais. E quando usamos o benzimento, revivemos as nossas ancestralidades.
As ciências contemporâneas precisam se reorganizar de uma forma circular, para que os saberes tradicionais possam transitar e conectar-se em diversos espaços, assim, de fato, poderemos promover a cura da Terra de uma forma coletiva, na busca de compartilhamentos de saberes e conhecimentos. Para rabiscar sobre os saberes indígenas, trago aqui os especialistas do meu povo, chamados de pajés, porque eles são detentores dos conhecimentos e promovem a cura do corpo, da mente e do território dentro das terras indígenas há milhares de anos, mesmo antes da invasão.
Esses saberes indígenas foram, também, amaldiçoados pela colonização, tentaram unificar tudo na busca de organizar o sonhado “desenvolvimento”. Hoje a Terra chora, clama e grita por socorro, nela os fenômenos climáticos são assustadores, causando mortes, alagamentos, queimadas, estiagem, provocando um desequilíbrio, deixando todos os povos da humanidade em vulnerabilidade.
Por estarmos no mesmo planeta, precisamos nos reconectar com as nossas ancestralidades e, nesse momento, a mãe Terra é base da nossa conectividade. Precisamos reflorestar a Terra, em especial as mentes humanas, na busca de encontrarmos soluções que organizem a existência do nosso planeta.
Nós, indígenas, sempre estivemos conectados com a mãe Terra.
O relógio é o sol.
A lua nos orienta nas plantações, até mesmo na extração das matérias-primas.
O rio é um nutricionista, nos oferece a diversidade de peixes, que vai nos alimentar o ano inteiro.
A floresta é nosso pomar, composta por uma diversidade de frutas.
A floresta é o campo natural, oferecendo os nossos hábitos alimentares, como animais e as aves.
A floresta é nossa farmácia viva, nela se encontra uma diversidade de plantas medicinais que curam. É um mercado composto por uma diversidade de coisas que podem suprir a necessidade dos povos indígenas. Lá, encontram-se diversidades de matérias-primas, árvores e palhas para construção de casas, canoa, remos, utensílios domésticos, como arumã, panela de cerâmica, peneira, abano, materiais para confeccionar os instrumentos musicais, entre outros. Por isso, que falamos que Terra é mãe: porque ela nos dá o sustento, ela é o útero que dá a vida. Está conectada com nossa existência, nossas ancestralidades estão nesse tapete verde, que são os rios escuros, lagos e montanhas.
Os meus rabiscos indígenas, feitos sobre os saberes tradicionais, nos impulsionam a refletir e desconstruir os pensamentos de como fomos ensinados de que ciência só é feita por meio de métodos escritos. Para os povos indígenas, suas metodologias estão na oralidade e no dia a dia de sua vivência. Somos árvores desconhecidas e, ao morrermos, alimentamos as árvores que estão vivas. As sementes caídas no chão alimentam muitas vezes os humanos e os animais. Elas são conduzidas, e assim renascemos em outro espaço, para que possamos continuar o ciclo da vida.
As ciências e os saberes tradicionais, precisam reconstruir narrativas interculturais, nas quais os corpos, mentes e territórios, possam florescer reflexões e visões para além do que a sociedade nos ensinou. Saber que o rio é vivo. É o sangue da mãe Terra, que é composta por diversos seres vivos.
Já pensou se os animais aquáticos falassem?
O que eles falariam atualmente para nós?
Já pensou se as plantas falassem?
O que elas nos perguntariam?
Já pensou se os oceanos falassem?
O que eles nos questionariam?
São essas reflexões que precisamos fazer quando se fala sobre a ciência e os saberes tradicionais.
Elizângela Baré é uma mulher indígena, artesã, agricultora, mãe, professora, liderança, falante da língua nheengatu e socióloga. Natural da Terra Indígena Cué-Cué/Marabitanas, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM). Possui licenciatura em sociologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), é apresentadora da rádio Sumaúma, doutoranda em saúde pública na Universidade de São Paulo (USP).
Biopirataria em questão
POR FERNANDO GABEIRA
Convidado para participar de um debate no Sesc Pinheiros, sobre o tema Ciência e Saberes Tradicionais [projeto Sempre um Papo, dia 15 de abril de 2025], não hesitei. Em primeiro lugar, já havia tratado do tema como deputado nos anos 1990. Em segundo, teria de companheira de mesa Elizângela Baré, que tem uma experiência de vida na floresta e agora também na universidade.
Evidentemente que o tema permite uma multiplicidade de focos. O que escolhi, baseado na minha experiência, é mostrar como nem sempre o encontro da ciência com os saberes tradicionais é um encontro bem-intencionado. Refiro-me à questão dos direitos autorais das comunidades. Esse é um problema universal, tratado em várias partes do mundo com muita tensão. Como garantir que os conhecimentos das sociedades tradicionais sejam respeitados, inclusive recompensados, pelo uso científico de grandes laboratórios farmacêuticos ou de qualquer outra ordem?
De modo geral, os conhecimentos tradicionais não são reconhecidos, eles são apropriados sem que as comunidades saibam. Além disso, as comunidades tradicionais têm muitas dificuldades para ir aos tribunais a fim de garantir os seus direitos. Nem sempre têm conhecimentos adequados para isso, ou recursos para mobilizar advogados.
O Brasil aprovou uma legislação sobre o tema em 2015. Na América do Sul, o Peru também se movimentou nesse sentido e a Índia – graças, também, aos esforços da ecofilósofa Vandana Shiva –, suas leis protegem as comunidades tradicionais. Mas o centro do nosso debate é o Brasil. Escolhi o tema “biopirataria” para sintetizar a evolução do problema. É uma expressão moderna que pode ser usada para o roubo não só de conhecimentos tradicionais como também de produtos da floresta, às vezes os dois simultaneamente.
Se compreendermos a biopirataria de uma forma mais ampla, veremos que, de uma certa forma, ela inaugurou a história do Brasil, definindo, inclusive, o nome do país. A extração do pau-brasil foi uma atividade dominante após a chegada dos portugueses, e seu processo de exploração praticamente privou o Brasil dessa árvore. O pau-brasil, como se sabe, era madeira de valor para construção de móveis e até de violinos. Dele, ainda se extraía um corante vermelho para tingir roupas.
Mais tarde, no fim do século 19, o Brasil viveu o ciclo da borracha, que enriqueceu os produtores do Norte do país. A decadência do ciclo foi parcialmente impulsionada pela concorrência asiática. Ela produzia a mesma borracha brasileira graças ao contrabando, pelos ingleses, das sementes da Hevea brasiliensis. Importante registrar que fora do Brasil.
Esta sequência de litígios não significa que o encontro da ciência e da tecnologia com o saber comunitário é sempre negativo. Pelo contrário. As possibilidades são imensas, sobretudo no campo medicinal. No início do século 21, ainda como deputado, fui à Suíça questionar na imprensa local um projeto da Novartis de pesquisa de plantas amazônicas. A Novartis é uma gigante no campo farmacêutico, mas naquela época, ainda não tínhamos uma lei regulando o tema. As premissas principais – informação à comunidade e repartição dos benefícios – não foram levados em conta.
Hoje as possibilidades são maiores porque, pelo menos em tese, temos um controle legal. Os abusos do período sem lei foram muito grandes. O Brasil teve que lutar pela recuperação das amostras dos Yanomami. Eles não sabiam que eram objeto de uma pesquisa científica e não aceitariam esta prática, sobretudo sem o seu consentimento.
Alguns outros litígios brasileiros foram parar nas cortes estrangeiras. É o caso do açaí, patenteado por uma empresa japonesa que explorava esse alimento amazônico como se fosse seu. Outro caso rumoroso, no âmbito amazônico: um estadunidense, chamado Loren Miller, patenteou a ayahuasca, uma bebida usada em rituais religiosos. Na verdade, a ayuhuasca é uma combinação de duas plantas, ambas nativas, e seu nome vem do quíchua: “aya”, morto, “huasca”, chá. É traduzida como um “chá do espírito”. Essa demanda partiu de comunidades indígenas e pesquisadores, e a patente foi revogada.
Na Índia, tanto a cúrcuma, com suas propriedades cicatrizantes, como a neem, árvore usada como inseticida, foram apropriadas indevidamente. A planta Hoodia gordonii era usada pelo povo San, na África do Sul, como supressor de apetite durante as caçadas. O governo a patenteou para a Pfizer, mas uma grande campanha internacional acabou obrigando a grande empresa a repartir os benefícios por meio de um acordo.
Apesar de todo aparato legal, ainda somos vítimas da biopirataria. Milhares de peixes ornamentais são exportados sem controle e o comércio ilegal de animais é uma das atividades mais lucrativas para o crime organizado na Amazônia, ao lado do garimpo e do tráfico de drogas. Esse deveria ser um problema de interesse planetário. Os animais são transportados clandestinamente em viagens estressantes, e alguns podem trazer vírus desconhecidos para as áreas urbanas. Além da crueldade e do empobrecimento da fauna, o comércio clandestino de animais é um constante perigo de epidemia.
No debate que fizemos no Sesc Pinheiros, não me alonguei nos aspectos positivos do encontro da ciência com o saber tradicional, mas não posso deixar de mencionar que, na vida pessoal, de uma forma singela, fui beneficiado por ele. Uma de minhas filhas nasceu de parto de cócoras, uma prática entre os povos tradicionais. Isto numa maternidade com todo o equipamento moderno para o caso de complicações. Enfim, há um longo caminho para o lado positivo do encontro, desde que possamos, com antecedência, cuidar da proteção do saber tradicional.
Se esse caminho for trilhado, aumentam em muito as possibilidades de um desenvolvimento sustentável na Amazônia, por exemplo. Ali, não se trata apenas de conciliar o conhecimento dos nativos com os da ciência. Grande parte da floresta contém segredos que ainda não foram alcançados pela humanidade. Da mesma forma como no fundo do mar, ainda existem segredos que podem impulsionar o que chamamos de economia azul, uma nova fronteira de descobertas.
Resta apenas transformar a biopirataria como uma fase ultrapassada de nossa história, compartilhando conhecimentos e benefícios para que todos possam compartilhar deles. Embora não seja um tema definido na agenda, muito possivelmente, ele vai aparecer na COP30, reunião internacional que se realizará em novembro, na cidade de Belém (PA), no coração da Amazônia. Muitas comunidades tradicionais, pela primeira vez, estarão presentes e, certamente, vão querer discutir uma nova visão de futuro.
Fernando Gabeira é jornalista e escritor, autor de 10 livros, entre alguns: O que é isso, companheiro? (1979), Viagem ao coração do Brasil (1994) e Democracia tropical: Caderno de um aprendiz (2017). Atualmente, é colunista do jornal O Globo e comentarista do canal de televisão por assinatura Globo News.
A EDIÇÃO DE AGOSTO DE 2025 DA REVISTA E ESTÁ NO AR!
Para ler a versão digital da Revista E e ficar por dentro de outros conteúdos exclusivos, acesse a nossa página no Portal do Sesc ou baixe grátis o app Sesc SP no seu celular! (download disponível para aparelhos Android ou IOS).
Siga a Revista E nas redes sociais:
Instagram / Facebook / Youtube
A seguir, leia a edição de AGOSTO na íntegra. Se preferir, baixe o PDF para levar a Revista E contigo para onde você quiser!
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.