
Pesquisador e chef Max Jaques vê no prato brasileiro uma síntese da nossa história: diversidade de biomas, saberes transmitidos entre gerações e o desafio de preservar a comida como patrimônio vivo.
MAX JAQUES é chef de cozinha e escritor, com formação em patrimônio, memória e gestão cultural. Pesquisa a cultura alimentar brasileira e desenvolve projetos que conectam gastronomia, memória e território. É consultor do Sebrae e autor do livro Comida no cotidiano (Instituto Brasil a Gosto/Editora Contexto, 2021).
Espalhada por seis biomas, a biodiversidade brasileira é composta por 124 mil espécies da fauna e mais de 44 mil espécies da flora, o que dá ao Brasil o título de país mais biodiverso do planeta. E o nosso prato pode ser uma expressão de tamanha fartura de ingredientes, cores e sabores.
No livro Comida no cotidiano (Instituto Brasil a Gosto/Editora Contexto, 2021), Max Jaques diz que “no fogão se transforma natureza em cultura, berço de prazer, memória e nutrição”. Fica, então, o convite: que tal usar a sua cozinha como uma expressão da diversidade do nosso país?
Valorizar o patrimônio alimentar, promovendo a inclusão de alimentos nativos e tradicionais, é um dos caminhos para preservar os sabores da natureza. “Se a gente não comer o patrimônio alimentar, ele se esvai”, destaca o chef de cozinha e pesquisador da cultura alimentar brasileira, na entrevista que você lê a seguir:
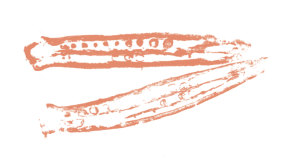
Onde começa o comer?
O comer começa na biologia, mas se transforma na cultura. Aquilo que a biologia não responde, a cultura é que faz o intermédio.
Pensando nessa relação entre biologia e cultura, os sabores, mesmo que presentes no estado natural dos alimentos, também são construídos pelo ato de cozinhar?
Muitos cientistas sociais vão argumentar que a possibilidade de produzir uma cozinha é o que faz do humano, humano. E quando a gente fala de produzir uma cozinha é mais do que ferver alguma coisa. É construir um complexo esquema de conhecimento e teorizações que são transmitidas secularmente, milenarmente, entre gerações. É pensar que o ingrediente sempre vai ser biológico. Ele pode ser sintético também, mas ainda que sintético, ele parte de um componente biológico. Mas tudo que ultrapassa a biologia é cultura e linguagem, inclusive o nome que esse ingrediente leva. O fato de a gente chamar em algumas regiões de aipim, em outras de mandioca, em outras de macaxeira e em outras de mandioca brava, ainda que a gente saiba que são variedades do mesmo ingrediente, é cultura e linguagem.
Comer é uma atividade biológica fundamental, mas não é a única que a gente tem. Também temos que dormir, que tomar água, que ir ao banheiro… E sobre essas variáveis biológicas fundamentais, a gente cria vários roteiros narrativos linguísticos. Há jeitos e jeitos de fazer cada uma dessas coisas, mas nada que se compare à complexidade do comer. Porque você não tem um sentido para o dormir como a gente tem para o paladar.
Se eu nasço em um lugar, eu vou desenvolver um paladar a partir dessa cultura, que vai ser muito diferente se eu nascer em Hong Kong ou no Brasil, no que diz respeito à sensibilidade de textura, ao gosto por fermentados, ao contato com o umami (quinto sabor básico do paladar humano, reconhecido cientificamente junto ao doce, salgado, azedo e amargo). É uma questão muito complexa, e eu entendo que a alimentação é uma varanda para todas as dimensões da sociedade.
Pensando nessa dimensão cultural, como é que a gente poderia definir o patrimônio alimentar?
De forma acadêmica tradicional, a gente entende patrimônio como o conjunto de signos e práticas que estão relacionadas com a constituição da identidade, da história, de um deter[1]minado local ou comunidade. Patrimônio alimentar é um termo de longa história no Brasil, e ao mesmo tempo atual, porque quando a gente vai olhar as elaborações do Mário de Andrade (1893-1945), que foi um dos que ajudaram a pensar o que hoje é o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ele já entendia que as práticas alimentares também eram muito ligadas às práticas folclóricas, mas não só. Ele já pautava essa necessidade de olharmos para o Brasil também a partir da nossa comida, com orgulho dela.
Por outro lado, como política pública, trabalhamos com patrimônio alimentar de forma muito recente, pelo menos no Iphan. Em alguns estados temos mais presença, mas é um patrimônio que exige um cuidado muito diferente dos patrimônios materiais, e mesmo dos patrimônios culturais em geral. É o patrimônio mais antropofágico deles, porque a gente o preserva comendo. Se não comermos o patrimônio alimentar, ele não se mantém, ele se esvai.
Se o patrimônio alimentar precisa ser algo vivo, que está sempre em movimento, como aproximá-lo das novas gerações?
Sempre que falamos de patrimônio cultural, estamos falando de algum nível de tradicionalidade. Tem que ter algum laço histórico com o território, com a comunidade, e é muito difícil dizer o que é tradicional. E nem tudo que é tradicional é bom. Já é tradicional plantar soja no cerrado, por exemplo. Há de ter uma reflexão sobre porque eu vou salvaguardar algum patrimônio alimentar, por quanto tempo e com qual objetivo.
Quando a gente fala de tradicionalidade, a própria etimologia da palavra tradição tem a ver com transmissão. Só se torna tradição aquilo que se transmite. E na alimentação isso é muito claro. Uma questão que é muito complexa, trazida pelo [sociólogo e filósofo francês] Jean Baudrillard (1929-2007), é que a alimentação é um dos componentes mais conservadores do humano. E ela se transforma muito lentamente. Porque a partir do momento que a gente entendeu que a batata funciona, a batata funciona. E minha avó e minha bisavó comeram batata. Mas tivemos a entrada dos ultraprocessados com muita força após a Segunda Guerra Mundial. E o que os meus sobrinhos comem hoje é muito diferente do que a minha avó comia. Isso fala de uma pasteurização.
Então, quando a gente reflete sobre patrimônio alimentar, a gente tem uma emboscada para resolver, que muitas vezes parece que é uma oposição entre tradição e inovação. Porque não tem tradição sem inovação. A tradição só se sustenta se ela inova na medida em que é possível transmitir. É preciso pensar sobre como estamos fazendo essa transmissão intergeracional. Uma coisa muito simples é colocar os mais velhos para transmitir para os mais novos.
Sabemos que não vai ser unanimidade e que poucos jovens serão fisgados. Mas atividades que aproximem as gerações são importantes.
No Brasil, muito do que a gente reconhece hoje como patrimônio cultural é uma medida de proteção que decorre da precariedade. Não decorre de uma intenção de preservar. A atuação das quebradeiras de coco-babaçu, por exemplo, até hoje quebrando o coco no facão em cima de uma pedra, é uma precariedade. Queremos salvaguardar algo assim? Como é a vida dessas mulheres? Então, é, de alguma maneira, preservar com inovação, atualizando essa realidade.
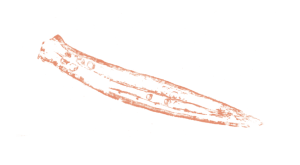
A biodiversidade brasileira pode ser considerada um patrimônio?
Ela é algo que caracteriza o nosso país, que caracteriza o nosso povo, em maior ou menor escala. Estamos muito longe do ideal, mas quem já viajou para fora do Brasil sabe que uma feira brasileira é um paraíso, pela diversidade de ingredientes que a gente tem. Poderíamos ter muito mais, mas a gente já tem muita coisa, principalmente nos interiores. Eu entendo que o Brasil do interior é mais biodiverso, mas também, muitas vezes, mais suscetível ao ultraprocessado, ao ideal de progresso que está manifestado na aquisição de determinados alimentos.
Gosto de dizer que sim, que a nossa diversidade alimentar é um patrimônio, e cabe fazer um uso inteligente disso. Devemos referenciar a biodiversidade como um patrimônio no campo da disputa narrativa, até que a gente se aproprie disso. E estimule políticas de salvaguarda que não existem. No caso da nossa biodiversidade, eu falo de políticas de preservação de uma forma muito ampliada, que passam, inclusive, pela possibilidade logística. É garantir que essa biodiversidade, a floresta, continue de pé e que chegue à mesa das pessoas.
Comer passa pela nossa organização social. Você acha possível recriarmos mecanismos para comer localmente, mesmo no contexto urbano em que a maioria das pessoas vive?
Possível, sempre é. Mas para que isso aconteça, temos que falar de algo fundamental no nosso país, que é a reforma agrária. E pensar em escalas. Não acho que dá para ser tudo produzido em uma área próxima, algumas coisas precisam de mais espaço, podem estar mais longe, e pode ser mais inteligente que sejam produzidas e distribuídas. Mas hoje é tudo muito concentrado.
Quando falamos de locavorismo [a preferência por comprar e consumir alimentos produzidos localmente], a gente pensa em uma localidade próxima. E tem muitos ingredientes que seria interessante termos essa proximidade. Mas, novamente, isso tem a ver, entre outras coisas, com as pessoas terem espaço e conseguirem arcar com a manutenção daquela terra.
Uma experiência que eu tive em Fortaleza (CE), em um centro das tapioqueiras, foi perguntar como elas faziam a goma da tapioca. Mas o polvilho vem do Paraná! Ele atravessa quase o Brasil inteiro para virar tapioca no Ceará. É algo impressionante. Precisa estar tão longe? Eu entendo que não dá para plantar em Fortaleza, mas será que seria possível pensar em arranjos mais próximos?
E o que seria um prato diverso, adequado e saudável no contexto brasileiro?
Esse prato precisa estar calcado em muitos aspectos. Apesar de parecer que está muito claro o que é considerado adequado, porque talvez se pense em prato saudável do ponto de vista nutricional, é importante que seja saudável em toda a cadeia, desde a produção até o descarte do que sobra desse prato.
Também existe a leitura desse prato pensando no mercado de trabalho no Brasil. Por isso, um prato saudável também precisa refletir uma cadeia de produção justa, que valorize quem cozinha e garanta dignidade em todas as etapas.
Temos entendido, cada vez mais, que comer é político, comer é cultura, comer é identidade. E, de alguma maneira, também temos que pensar que esse ato precisa ter alguma leveza. Como Neide Rigo provoca no seu livro Comida comum(Ubu, 2024), que a gente possa pensar as nossas práticas até que essa comida comum seja mais justa e diversa.
O seu livro mais recente fala sobre a comida no cotidiano e explica os caminhos que nos trouxeram até os padrões alimentares de hoje. Mas qual é a comida do cotidiano?
Eu diria que a comida ideal do cotidiano é a que converse com a sua cultura, com o seu território, na medida do possível. Não dá para dizer assim: “a comida do cotidiano é arroz e feijão”. Qual arroz? Qual feijão? O arroz e feijão do baião de dois? O feijão manteiguinha, o feijão carioca, o feijão vermelho ou o feijão preto? Não existe uma comida de brasileiro única em um país deste tamanho.
O que se come é um conjunto de soluções que são transmitidas ao longo dos anos. A última vez que eu fui para Belém (PA), fiquei 10 dias na cidade e não comi carne. Nenhum dia. Consumi peixe, pois todo mundo come peixe em casa. Uma coisa é a cultura alimentar em âmbito doméstico. Outra coisa são os aspectos da cultura alimentar que são representados de forma mercantil por meio da gastronomia. Para pensar a alimentação, a gente tem que garantir nas nossas casas uma comida diversa, uma comida do cotidiano e uma comida segura.
Leia também a matéria Comer é cultura.

Em 2025, o projeto Experimenta! Comida, saúde e cultura acontece dos dias 14 a 26 de outubro, com o objetivo de ampliar a programação educativa sobre alimentação e seus aspectos interdisciplinares, promovendo ações voltadas à alimentação adequada e saudável. Conheça mais sobre o Experimenta! Clicando aqui.
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.