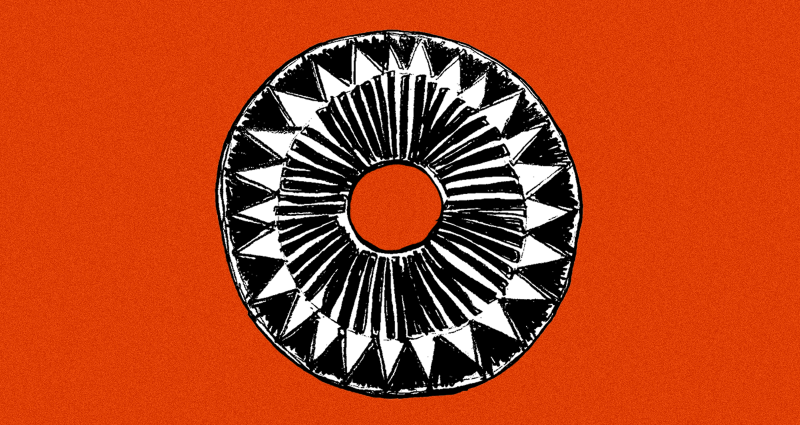
Romulo Alexis apresenta a questão da temporalidade e ritualidade nas performances sonoras negras a partir da análise de três grandes álbuns: Marinheiro Só, Chi Congo e Nada como um Dia após o Outro Dia
Romulo Alexis é mestre em Musicologia: Criação e Produção Sonora no Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Desenvolve intensa atividade artística desde 2008 com presença em festivais dedicados à música exploratória e performance no Brasil e Europa e com colaborações junto a mais de 300 artistas de diferentes abordagens criativas.
Ilustrações por Ale Amaral — designer e produtor gráfico do Selo Sesc, ainda com esperança de um dia ver árvores dominando prédios.
A Música é ordinária. Ela tece nossas relações e sublinha nossas emoções ganhando sentidos que extrapolam a ideia original de seus autores e autoras. A música em si não significa nada, mas nossa relação com ela é determinante em nossas experiências. Abundante e presente em absolutamente todas as manifestações humanas, a música possui relações profundas com epistemologias, modos de sentir e organizar o mundo, e conforma valores estéticos, nas suas formas de criar, viver e interpretar a experiência da vida.
Este ensaio desenvolve reflexões sobre as relações entre música afrodiaspórica e ritualidade, a fim de tensionar cristalizações viciadas e essencialistas sobre uma produção que é vasta, polifônica, diversa e incapturável. A música afrodiaspórica tornou-se o DNA de toda música urbana popular universalizada. Ao modo de um ensaio musical, vou lhe convidar a ouvir três álbuns que servirão de recursos complementares para apreciação deste texto. Cada um desses álbuns icônicos da produção afrodiaspórica ilustrará, sem esgotar, alguns aspectos das inúmeras e insondáveis relações entre música e ritualidade negra.
Muitas vezes, quando falamos sobre a produção artística de pessoas negras e racializadas, associamos automaticamente certos sons ou estilos musicais à aparência dessas pessoas. Essas associações acabam reforçando ideias fixas sobre como “deveria” soar uma música negra. Afirmamos então que são rítmicas e suingadas, envolventes, sensuais e sedutoras como uma roda de samba; que são vocalmente imponentes, cheias de frenesi como nos sopros explosivos das orquestras de frevo e de jazz; são polirrítmicas e multifônicas como nas linguagens percussivas de herança africana, presentes no jongo, nos batuques, nos maracatus, nas folias todas, entre outros aspectos.

A história não se cansa de demonstrar como cada um desses valores com os quais estamos intimamente familiarizadas/os, sobre a música feita por pessoas negras hoje, foram e são perseguidos e criminalizados, bem como suas e seus protagonistas. As pessoas que artisticamente desenvolveram essas linguagens ostentam até os dias atuais uma condição sub-humana, tendo suas produções marginalizadas e que, após serem socialmente reconhecidas, passam a ocupar um lugar imaterial de disponibilidade para o uso indiscriminado. Esses usos se deram tanto na fundação de símbolos nacionais, como é o caso do samba e do jazz, bem como através de registros fonográficos de cunho etnográfico, e “inspirações” derivando para plágio. Nesta disponibilidade de acesso à subjetividade criativa negra ecoa a disponibilidade de uso destas mesmas pessoas, que o pensamento estanque da racialidade manifesta sem contornos evolutivos.
Entre a manifestação negra e uma estrutura de recepção que é branca, encontram-se seres humanos hierarquicamente classificados, epidérmica e fenotipicamente. Pessoas que foram parasitadas e tiveram seus corpos e territórios servindo de base para as riquezas materiais e imateriais do mundo moderno. Se o mundo “evoluiu” através de progressos tecnológicos, científicos e humanos, a condição social de pessoas negras na divisão das riquezas do mundo, não.
Se essa disponibilidade por um lado propiciou a distribuição sem fronteiras da cultura negra para o contexto global, através da nascente indústria do entretenimento do fonograma, cinema, rádio, tv e internet durante o século XX, por outro gerou um conjunto de capturas, estereótipos e percepções viciadas em cristalizações, filtradas sob medida, pelo olhar e interesse mercantil dos donos dos meios técnicos de registro e distribuição. Desde sempre e até hoje, majoritariamente pessoas brancas.
“o direito de tomar emprestado, reconstruir e rearranjar fragmentos culturais tirados de outros contextos negros não era pensado como problema por aqueles que produziam e consumiam a música.”
Paul Gilroy. Atlântico Negro. p. 196
A cultura e suas manifestações são um campo de forças, uma arena de disputa de significado. Os trânsitos culturais que atravessaram o Oceano Atlântico nas dinâmicas transnacionais deram origem a sistemas de comunicação que nunca pararam de se desenvolver, e constituem hoje essa arena global permeada de essencialismos, associações, apropriações e ficções sônicas, todas elas atravessadas pelo dinamismo de ritualidades como organizadoras desses mundos em colisão. Se todo ritmo cria um espaço próprio, como um registro que simboliza o tempo, a ritualidade pode ser entendida como um modo de percepção e organização, um conhecimento que se dá ao articular corpo, memória e comunidade. Aqui inicio as minhas proposições de escuta de três obras, separadas no tempo e no espaço, mas unificadas na dimensão sonora das estéticas negras afrodiaspóricas.

Apelidada de Rainha Quelé, a cantora Clementina de Jesus surgiu na cena cultural já sexagenária. No período, Clementina representava uma manifestação estética autêntica da expressão negra. Conforme aponta Dimitri C. Fernandes, para seu “descobridor”, o poeta, pesquisador e produtor Hermínio Bello de Carvalho que, junto com Sérgio Cabral, recém havia elevado e celebrado o mangueirense Cartola da semi-obscuridade para o estrelato, Clementina significava outro super-trunfo, sucesso de público e crítica.
Hermínio procedia a comparações não só com artistas da música. A importância conferida a Clementina transcendia o reino da arte sonora, até mesmo das artes em geral: ela era a personificação de um elo com o passado negro-brasileiro, muitas vezes escamoteado ou recalcado.
Dmitri C. Fernandes. p. 147
Produzida e idealizada como avatar da essência da ancestralidade negra, Clementina se declarava catolicíssima, embora exímia conhecedora do repertório negro composto por jongos, lundus, corimás, batuques, macumbas muitas. Essa oralitura vasta formada de cantos de africanidades diversas evidencia o ritual como uma tecnologia de preservação da memória negra. Isso, no entanto, não é um fator capaz de congelar a expressividade e a performatividade dessa cantora em uma peça de museu. Neste álbum, Clementina articula uma gama de diálogos interculturais que, faixa a faixa, deslocam repertórios, transformam significados e reinscrevem tradições através dos recursos tecnológicos disponíveis no período da gravação, ilustrando a capacidade da tecnologia de ressignificar práticas da ancestralidade.
A faixa-título composta por Caetano Veloso é quase que uma vinheta do álbum, abrindo e fechando os trabalhos. A música na “Linha do Mar” é embalada por uma caixinha de fósforo, um timbre ordinário que se tornou clássico nas rodas de samba, vindo desse objeto que sequer é um instrumento musical, mas explode em musicalidade inusual convertido em contexto experimental popular, ilustra a verve de invenção, que atravessa essas tradições folclorizadas. O canto de Clementina se desenha por melismas, vibratos rotundos e inflexões vocais que nada têm de antiguidade e são configurações estéticas presentes na fonografia da modernidade vocal do século XX.
Os contracantos da cuíca são substituídos pelo trombone ardido na faixa “Madrugada”, mas retorna em “Sai de Baixo”, e ambos dialogam com Clementina e o coro em uníssono, trazendo na letra a ética ritual de um “filho de batuqueiro, candongo de Orixá”. Aqui o vínculo ritual com a batucada e a repressão policial dessas práticas de gentes negras fica sutilmente registrado. O duo de Clementina com Naná Vasconcelos é uma das faixas mais livres e experimentais da fonografia negra do período. Naná insere a tabla, instrumento de percussão indiano, e outros timbres de sua cosmética sonora, em diálogo com uma voz múltipla e imprevisível de Clementina em “Taratá”, um canto de trabalho cuja história se perde nas plantations brasileiras. Sobre esse registro, o pesquisador G.G. Albuquerque pontua:
essa música não tem nada a ver com a expressão do “real sentimento negro, do trabalho, da escravidão, do sofrimento do negro”, como diz um comentário no YouTube. É exatamente o oposto: o desenraizamento dessa subjetividade marcada pelo escravismo e colonialismo. É tomar esse complexo de saberes e experiências afro perspectivistas como alavanca para um tipo particular de experimentação, que difere sensivelmente do ideal de vanguarda canônico europeu justamente por abdicar desse fetiche futurista. Ao contrário, temos uma multitemporalidade, onde as fronteiras entre passado e futuro são borradas e encaramos uma vanguarda da retaguarda.1

O lado A do álbum, que termina com “Essa Nega Pede Mais”, e a faixa “Moro na Roça”, que abre o labo B, são ambos sambas em estilo partido-alto2 onde a improvisação de Clementina se faz presente na antifonia de versos de resposta que sambistas, tradicional e ritualisticamente, empregam para se desafiar nos divertimentos das rodas. A seguir, outra faixa disruptiva de qualquer essencialismo e prisão secular que se queira dar às manifestações afro-diaspóricas, acontece em “Cinco Cantos Religiosos”. Aqui mais uma vez em duo com Naná Vasconcelos, Clementina inventa, cria, lamenta, brinca, celebra e invoca as ritualidades negras em um contexto de invenção, acompanhada por Naná que colore, decora e desenha os contornos sonoros da performance. Dos cinco cantos, “Atraca, Atraca”, “Incelença” e “Abaluaiê” são os que abrem espaço para invenções frutíferas. Em “Atraca, Atraca que vem Nanã”, quem vem é Naná Vasconcelos, que tem sua voz capturada pelos microfones dispostos em sua percussão. Clementina, após a exposição do tema junto com o coro, abre espaço para um solo de Naná, vocalizando seus toques, criando um dueto de percussão e voz. “Incelença” tem a voz de Naná junto de um gongo tibetano criando outra ponte entre as ritualidades e espiritualidades afro-orientais. “Abaluaiê” que começa com timbres e murmúrios guturais é de uma exploração atmosférica dramática, com suas ênfases e pausas, sustentações e interpretação vocal que explora sons de garganta, de peito e de cabeça.
Tentar reduzir as performances musicais desse álbum a mero estandarte da tradição é um sintoma de uma percepção viciada em ler nas artes negras, e também nas pessoas negras, significados de atraso, primitivismo e pureza naif, sob as roupagens de autenticidade, através do filtro da idealização e da racialização. Se na época do lançamento de Marinheiro Só, os cantos da espiritualidade negra de Clementina de Jesus eram ainda incomuns, tendo se popularizado também na voz de Martinho da Vila e Clara Nunes, hoje o “macumbismo” sonoro está devidamente consolidado como um elemento musical estruturante do imaginário da música popular brasileira, intelectualizada ou não, como na reencarnação rítmica do toque “congo de ouro” nos bailes funks.

Ao longo das dinâmicas de restrição de mobilidade social que as pessoas da diáspora negra historicamente enfrentaram, foram se configurando múltiplas formas de resistências culturais que regeram e configuraram a invenção de mundos próprios através de modos de organização independentes da ordem oficial. Os quilombos e aldeamentos rurais, e as Irmandades da Boa Morte no contexto urbano são antepassados dos modos de organização artísticos que se desenvolveram em instituições como o T.E.N, o Teatro Experimental do Negro3 no Brasil em 1944, e o BAM, Black Arts Movement na década de 1960 nos Estados Unidos. Nessas experiências socioculturais e criativas de modos de organização, o imperativo norteador foi sempre a inserção de profissionais negras e negros em um ecossistema cultural branco, seja no campo da literatura, do teatro, das artes visuais ou da música, frentes principais articuladas por esses coletivos.
Situados de forma marginalizada nos mecanismos de legitimação como academias, instituições artísticas e lugares de liderança na indústria cultural, artistas racializadas/os configuraram a partir dos anos 1950, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, um tipo diferente de intelectualidade. Identidades subversivas geradoras de instabilidade e ruído nos meios culturais, que precisavam ser ajustadas aos moldes mercadológicos, sendo folclorizadas, como é o caso de Clementina de Jesus, e/ou indexadas de forma estereotipada como genialidades trágicas, representando os aspectos selvagens da identidade negra bestial e talentosa, como Charlie “Bird” Parker, Billie Holiday, Nina Simone e Wilson Simonal entre tantos muitos e muitas.
Um dos movimentos mais longevos de que se tem notícia no campo da música negra é o coletivo de Chicago, AACM4, Association for the Advancement of Creative Musicians5, (algo como Associação para o Desenvolvimento de Músicos Criativos), fundada na segunda metade da década de 1960 e que existe e atua até hoje nos Estados Unidos. Empenhada em realizar o desenvolvimento artístico e criativo de seus artistas, com uma inserção direta em suas comunidades, bem como em criar oportunidades através de seu status institucional, na negociação e mediação de apresentações musicais e artísticas originais de cunho experimental e criativo, a AACM trabalhou para desvincular suas expressões da caixinha redutora da classificação de Jazz Music, disputando prêmios, bolsas, financiamentos e outras políticas culturais que antes se restringiam apenas aos artistas vinculados às tradições da música de concerto europeia ou do experimentalismo estadunidense branco, na esteira do pensamento inaugurado por Henry Cowell (1897-1965) e John Cage (1912-1992) nos Estados Unidos.
A AACM foi responsável por levantar um debate consistente com instituições musicais estadunidenses para tensionar a narrativa que colocava de um lado os compositores brancos da música experimental e do outro os artistas de jazz, questionando principalmente os métodos empregados nestas distinções e a consequente disponibilidade de recursos monetários para cada grupo6. Assim, de forma coletiva, criaram a possibilidade de um trânsito livre entre jazz, música experimental e música orquestral. Quase 60 anos depois, o impacto da AACM é validado pela presença de muitos de seus membros em universidades, como é o caso de George E. Lewis, professor na Columbia University em NY, e de Roscoe Mitchell, professor convidado em inúmeras universidades do mundo, além de serem ambos, artistas premiados internacionalmente. Mitchell é um dos últimos membros vivos do grupo mais célebre da AACM, que é The Art Ensemble of Chicago.
Como um dos maiores êxitos da AACM, o quinteto The Art Ensemble of Chicago foi formado originalmente por Roscoe Mitchell (1940), Joseph Jarman (1937 – 2019), Malachi Favors (1927 – 2004), Lester Bowie (1941 – 1999), e posteriormente acrescido de Don Moye (1946). Desenvolveu desde o final da década de 1960 um projeto internacional de circulação de suas práticas artísticas, indo buscar fora dos EUA as condições de desenvolvimento e circulação de uma obra artística original, disruptiva e de invenção que quebrou os padrões de expectativas estereotipadas sobre as criações negras originais. Tanto a AACM quanto o Art Ensemble of Chicago desenvolveram-se em um período efervescente da conscientização das questões raciais, seja nas lutas pelos direitos civis nos EUA, quanto nas lutas internacionais e revoluções de independência que aconteciam no continente africano. Informados por um pan-africanismo revolucionário e imersos nas revoluções de costumes e de insurreição racial dos EUA, contemporâneos de figuras como Martin Luther King, Malcolm X, Muhamadd Ali, Angela Davis e o Black Panthers Party, o Art Ensemble of Chicago se tornou internacionalmente uma expressão criativa radical do nacionalismo negro estadunidense.

Fundamentalmente multidisciplinar, o Art Ensemble of Chicago articulou ao longo de sua obra elementos de teatro, poesia e ritual, em uma Afrografia7 que é musicalmente disruptiva de estereótipos. Ocupando uma localização instável para a classificação e o entendimento de sua produção, o grupo se situou sempre dentro e fora das convenções, participando tanto de festivais de música contemporânea, teatro performático e festivais tradicionais de jazz, desrespeitando regras estéticas e tecendo comentários irônicos sobre as muitas correntes musicais da modernidade. Ao mesmo tempo, foram capazes de jogar humoristicamente com a ideia de exotismo afro-oriental, com o qual o grupo sempre mediou sua identidade na indústria cultural. Sobre a metodologia ritual do Art Ensemble:
a ritualidade demanda dois fatores de extrema importância: a necessidade da instauração de um espaço ritual, e a substituição de um tempo comum por um tempo sagrado, sendo que este tempo sagrado é um tempo mítico, essencialmente reversível na medida em que se atualiza. Podemos ler então a preparação da mise-en-scène do AEC com seu palco montado de forma instalativa com centenas de instrumentos, como a instauração desse espaço ritual, arena na qual o grupo vai romper as grades do tempo ordinário performando suas peças atmosféricas e imersivas, cheias de texturas e polirritmias, atravessadas por uma diversidade de manifestações populares afroamericanas e afrodiaspóricas, pontuadas às vezes como citações, e noutras como tributos.8
O álbum Chi Congo, já apresenta no título sua filiação afro-oriental. A composição assinada pelo poeta e multi-instrumentista Joseph Jarman, já aponta para um jogo de invenção semântica. Budista e dedicado praticante de Aikido, Jarman cria uma colagem do conceito oriental Chi ou Qi, que significa o sopro vital, a energia em fluxo, em movimento (um equivalente do axé na cultura Yoruba), com a palavra Congo, que mais que países (no caso a República Democrática do Congo e a República do Congo), representa uma área geográfica florestal que avança para o Gabão, Guiné Equatorial e Camarões, e também um sistema de pensamento Congo ou Bakongo do grupo étnico Bantu. Chi Congo é emulado no título como uma aliteração à Chicago, e marca a auto-narrativa que o Art Ensemble sempre fez questão de tecer sobre si mesmo. Gravado em 1970 mas lançado em 1972, Chi Congo marca a transformação do quarteto original em quinteto, com a inserção do baterista e percussionista Famoudou Don Moye no grupo.
Na faixa-título, uma falsa clave de Vassi, toque para o Orixá Ogum, vai se desenvolvendo tocada em um ferro acompanhada por claves de madeira e rufos soltos de peles de tambores, com uma inserção cada vez maior de apitos, buzinas, sinos, sopros de madeira e de metal, se adensando no pulso 2/4 com balafons e marimbas. Essa instrumentação polifônica e polirrítmica se estende por quase dois minutos, diminuindo de intensidade, abrindo espaço em uma atmosfera que perdura até o minuto 5:00 do fonograma, onde trompete e flauta começam a gemer juntos anunciando um baixo expressivo que vai se desenvolver acompanhado de coloridos sonoros múltiplos e imprevisíveis. A música que se desenvolve é dissolvente, sem pulsos rítmicos explícitos e dramática, na interpretação do trompete de Lester Bowie. Nenhum dos elementos da banda determina caminhos para serem seguidos, e ao mesmo tempo todos seguem em confluência na manipulação de uma ênfase comum de baixa intensidade, que culmina após um refrão empunhado pelo baixo em uma dissolução fluida percutida em um sino com o silêncio de todos os componentes do quinteto.
A faixa “Enlorfe pt. 1” abre explosiva e estridente como um motivo melódico disruptivo semelhante a fraseologia introduzida pelo compositor e saxofonista Ornette Coleman9 no universo do jazz de vanguarda no final dos anos 1950. Tendo o baixo como protagonista e a bateria efervescente em baixa voltagem, a peça é mais um momento de fluidez performática que foge de versos, melodias e motivos e se abre para fricções, vocalizações, gritos e emulações de um caos urbano dissonante, com ares de surto e discussão, combate e conflito. Nessa mesma intensidade “Enlorfe pt. 1” se desenvolve para a parte 2, pressionando qualquer noção de estabilidade rítmica e harmônica, em um clima característico das performances musicais de Free Jazz nos anos 1970. Até que no minuto 3:05, a voltagem se dilui para um timbre de surdina em duo com os harmônicos do baixo tocado com arco, emulando uma viola ou rabeca, oferecendo uma climática cerimonial e monástica que com notas longas e timbres metálicos orientais vão padecendo a faixa.
“Hipparippp” é a continuação da mesma performance que vai aos poucos perdendo sua estabilidade meditativa para as liberdades multifônicas dos sopros convocando uma nova tempestade de timbres em uma dinâmica mais volumosa. O caos se instala mais uma vez e se estende voraz até o minuto 9:00 quando, com uma melodia do trompete, um clima vai se silenciando ao som de sinos de pastoreio, tudo isso para ser interrompido de forma brusca pela melodia inicial de “Enlorfe pt. 1”, encerrando a performance e o disco.
É impossível ouvir qualquer álbum do Art Ensemble of Chicago e identificar a época do fonograma ou em que momento da carreira foi gravado, porque a prática musical do grupo, desenvolvida através de fluxo, fluidez, timbres diversos, dinâmicas de preenchimento e esvaziamento sonoro, organizadas ritualisticamente através da escuta e manutenção da energia criativa grupal, nunca se alterou ao longo de 5 décadas de produção musical. A poética do Art Ensemble está localizada fora da temporalidade, reafirmando aquilo que o grupo sempre afirmou sobre si mesmo: “Ancient to the Future” (“Antigos para o Futuro”).
Descrever a materialidade de uma peça musical do Art Ensemble of Chicago é mergulhar em uma ritualidade sonora livre. A ritualidade é uma das múltiplas chaves de interpretação do grupo que organiza suas performances por “estruturas interativas”, esquemas de improvisação e composição. Paul Steinbeck10, principal pesquisador e biógrafo do grupo, lê essa estrutura interativa como um dispositivo criativo gerador de uma conexão e entrosamento que capacita os artistas a criarem permutações sonoras complexas, confluindo de uma diversidade de timbres em momentos mais intimistas, para uma explosão sonora, diluindo os limites entre som e ruído. Assim, o grupo foi capaz de empregar como potência discursiva e criativa uma estética da incerteza, uma ambiguidade de fuga que contribuiu para sua extrema liberdade criativa que, ao mesmo tempo que esteve conectada com as tradições criativas afro-diaspóricas, defendeu a liberdade de desenvolver expressões dessemiotizadas de capturas essencialistas. O Art Ensemble of Chicago foi capaz de articular suas filiações no blues, gospel, soul, funk, jazz e demais associações da cultura negra em uma produção musical radicalmente criativa, fora dos contornos temporais que os estilos musicais trazem indexados, indo além da captura de uma suposta essência racial. A AACM fermentou no Art Ensemble of Chicago uma comunidade de desejo, afeto e transformação de si e de seus contextos como uma ética ritual, como uma prática comunal de autogestão do sensível.

“Eu percebo que estou dizendo algumas coisas que você acha que podem me colocar em apuros, mas… eu nasci em apuros.”
Malcolm X, 196411
Saindo do contexto internacional e voltando aqui para os modos de organização da negridade nacional, não é possível refletir sobre a dimensão ritualística e criativa afro-diaspórica sem considerar o grupo mais importante na história da cultura negra brasileira, que é o Racionais MC’s. Vindos praticamente das zonas de não ser, a forma como Frantz Fanon elabora os territórios esquecidos pelo poder público, as terras sem eira nem beira sob a cegueira da lei, os membros dos Racionais MC’s, Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, transformaram as vivências das coletividades nas margens em uma linguagem poética e ética, um modo de viver e proceder. A ritualidade aqui é articulada por uma ritmologia negra que emprega timbres graves, batidas hipnóticas e vocalidades viscerais que entoam narrativas íntimas, vivências ultra reais e palavras de ordem de revolta social. Oferecem insights que iluminam o caminho de pessoas que vivem a total falta de perspectiva e de esperança colocadas pela violência de Estado.
Através do binômio ritmo e poesia, os Racionais tecem ênfases temporais em oratórias rimadas, criando contratempos intempestivos, deslocando o verso em função do sentido e o verbo a serviço da sensação. A convergência entre o sentido da obra dos Racionais nas subjetividades periféricas e os signos de marginalidade, virilidade masculina, determinação pessoal e superação de dificuldades estruturais é tamanha que os temas e composições do grupo funcionam como hinos, ativando uma devoção ecumênica entre seus seguidores, que são mais do que fãs. Esse grau de conexão ritual do público do Racionais atesta a relevância de, através da arte, grupos ressignificarem simbologias marginais de forma épica, trabalhando com tensões sociais que fermentaram a história do movimento hip-hop.
A música negra cria e rege energia vital através de sua organização comunal e ritual, dá contorno a formas alternativas de vida, articulando erotismo, resistência e sobrevivência. O que emerge do encontro entre marginalidade e criação sonora são rituais que organizam a raiva e o ódio, sublimando a violência e se tornando materialmente uma via de ascensão social, ao desenvolver um ecossistema monetizador ligado às celebrações negras, aos bailes, festas, festivais, campeonatos e disputas criativas que a diáspora do hip-hop espalhou por todas as periferias experimentais do mundo. O paradoxo entre marginalidade e heroísmo orienta o horizonte criativo dessas estéticas, e nada mais são do que as configurações insatisfatórias de uma condição sub-humana em ebulição e vontade de potência que, no ônus do capitalismo extremo, manifestam a agência individual e coletiva dessas masculinidades negras periféricas no mundo.
“Daria um filme:
uma negra e uma criança nos braços,
solitária na floresta de concreto e aço.”
No horizonte desse heroísmo marginal habita a paz na comunidade e uma figura materna que é celebrada e cuidada. Eixo das famílias negras em serviço na casa das famílias brancas, a mulher preta periférica é, historicamente no Brasil, uma ponte entre dois mundos. É a mãe preta, a nega véia, a sábia benzedeira, aquela que na casa dos brancos é “como se fosse da família”, é a neta das amas-de-leite, a cuidadora que, encarando horas de distância entre o trabalho na casa dos outros e o trabalho na própria casa, encarna jornadas múltiplas segurando, muitas vezes sozinha, a responsabilidade estrutural de uma família. Figura sempre presente no épico negro dos Racionais, a mãe preta é um conceito chave para o poeta e filósofo Fred Moten, interpretar as estéticas negras de vanguarda. Para Moten, a escravização, ao separar as famílias e considerar a gestação e a hereditariedade da mulher negra como propriedades dentro do processo econômico, fez-se abrir uma fratura familiar que germinou uma sensibilidade de ausência e constituiu a carne dessas manifestações artísticas12.

Lançado em 2002, Nada como um Dia após o Outro Dia é um registro histórico das estéticas negras e ícone sonoro do experimentalismo periférico. Neste álbum, temos a articulação de música concreta, cinema sonoro, manipulação timbrística, colagens e a já citada ritmologia negra. Se na dimensão da saúde, a ritmologia configura o tratamento para o cuidado das arritmias, nessa dimensão ritualística negra a ritmologia pode ser entendida como a implementação de estados de consciência manipulados pelo ritmo. Essa é a mesma tecnologia de portais dimensionais empregada desde tempos imemoriais na ritualística negra, e em Racionais MC’s temos, no corpo criativo do grupo, verdadeiros virtuoses da rima rítmica, da oratória rimada, fala mágica que inspira, engaja, convoca, surpreende, desorienta, desmonta e emociona em forma e conteúdo, com beleza e crueza. Como pontua Tricia Rose, as forças sonoras do rap são consequência das tradições culturais negras na relação tecnológica dos contextos urbanos. A tecnologia do sample, que no ambiente do experimentalismo euro-americano dos anos 1950 era utilizado nos estúdios radiofônicos de modo conservador em composições que circulavam em ambientes de especialistas, ao se popularizar em aparelhos mais baratos nas periferias, catalisou uma revolução cultural que transformou as relações entre artistas e seus fonogramas, provocando mudanças estruturais na indústria e produção musical.
O álbum duplo de molde conceitual abre e fecha com os anúncios da fictícia rádio Êxodos e de início já anuncia com o P-Funk “Vivão e Vivendo” suas filiações com Doctor Funkenstein de George Clinton soltando a alquimia verbal de Jorge Ben, abrindo a cena para a parceiragem e o acolhimento, resenhas da rua e das celas, onde estão os parceiros e familiares apartados da sociedade na lógica operacional de criminalização e encarceramento em massa das juventudes e masculinidades periféricas. Conforme João Hermógenes13 do site Inverso Rap pontua, Nada como um Dia após o Outro Dia é o disco nacional cujas faixas têm maior presença no imaginário popular. Faixas como “Vida Loka, Pt. 1 e 2″, “Negro Drama”, “Jesus Chorou” e “Da Ponte pra Cá”, foram capazes de quebrar a barreira cultural que restringia o grupo a um público periférico levando os Racionais MC’s a alcançarem um status artístico inédito no Rap nacional.
O trabalho articula paisagens sonoras de conflito com um fluxo motivacional, ético, poético em uma constante intermidialidade na fusão entre música, texto, interpretação performática e sons, muitos sons e timbres, referências e precedências. Com os Racionais os verbos se tornam provérbios, e se em alguns momentos emulam chaves de superação, noutras as temáticas de criminalidade, o abandono político das quebradas e preconceitos sociais e raciais, convocam para uma insurreição que toma de assalto os confortos burgueses, materiais e imateriais.
“Eu era a carne, agora eu sou
a própria navalha”
Ou
“A vida é sofrida mas eu não vou chorar,
Viver de quê? Eu vou me humilhar?
É tudo uma questão de conhecer o lugar
Quanto vem, quanto tem, minha parte quanto dá porque
Hoje eu sou ladrão, artigo 157
As garotas me amam, os playboy se derrete
Hoje eu sou ladrão, artigo 157
A polícia bola um plano, sou herói dos pivete”
No álbum desenrolam-se temas como inveja, solidariedade, sonhos eróticos em Fernando de Noronha, tramas e artimanhas descrevendo e humanizando a mente do vilão. Nestas poéticas, encontramos a construção de espaços de vulnerabilidade de onde emergem a desesperança, a morte e a sobrevivência. Performatividades do luto e do desejo, formas ritualísticas que vivem o luto musicalmente em contextos de perda de entes queridos pela violência, ao mesmo tempo em que o erotismo persiste ritmicamente como pulsão de vida. A ritualidade sonora dos Racionais consegue organizar para suas comunidades formas de partilha da dor e do desejo, articulando erotismo e luto sob o signo poético da luta existencial e marginal. A chave ritual da música dos Racionais é a perfeita ativação da música como médium de contágio emocional.
O ritmo viabiliza, através da motricidade, uma conexão vital de afetos que, através de cadeias rítmicas, acionam âncoras existenciais vinculando as pessoas no ambiente social, na sua relação com o mundo. Essa estética ritual negra cotidiana influencia o jeito de andar, de vestir, de falar, os gestos e as experiências corporais naquilo que Leda Maria Martins elabora como uma Afrografia, dimensão performática sensorial, afetiva e emocional que acompanha e sustenta a vida do ser socialmente vinculado, promovendo uma relação ultrassensível com o ambiente e os outros. Esse processo é uma poética de invenção de si, da organização íntima da nossa subjetividade diante do mundo, no qual a música é uma componente inseparável de nossas identidades.

Músicos e musicistas são normalmente interpretados como símbolos vivos do valor da espontaneidade, pois são protagonistas do papel da expressão cultural como formação e reprodução de modelos humanos. Nesse sentido, ao ofertarem esteticamente repertórios simbólicos, emanam a ética da invenção através da ação exemplar de ousar, criar, pular no abismo da expressão diante do mundo. Tornar pública sua subjetividade como num ritual de sacrifício. Se afirmar diante do mundo de forma radicalmente negra e criativa é seguir a determinação sacrificial de Amiri Baraka sobre o jazz de vanguarda: “Encontre o seu eu, e mate-o”14.
“Pois o verdadeiro jazz é uma arte de afirmação individual no interior e contra o grupo. Cada momento de jazz verdadeiro… brota de uma disputa na qual o artista desafia todo o resto; cada voo solo ou improvisação, representa (como as telas de um pintor) uma definição de sua identidade: como indivíduo, como membro da coletividade e como elo na cadeia da tradição. Dessa forma, porque o jazz encontra sua própria vida na improvisação sobre materiais tradicionais, o jazzista deve perder sua identidade mesmo quando a encontra…”
Paul Gilroy. O Atlântico Negro. p. 168
A condição de invenção de si que a negridade convoca surge a partir da tensão presente em uma hipervisibilidade e uma invisibilidade concomitantes que as pessoas negras articulam. A hipervisibilidade é aquela presente no patíbulo que se tornou palco. De objetos servis de aquisição na maquinaria escravagista passamos a objetos do entretenimento servil, criando, neste que se tornou um dos lugares mais seguros para a ascensão de pessoas racializadas, divertimentos para mimar sinhás e sinhôs, que hoje chamamos de público. A invisibilidade é também presente pois a real essência de humanidade não cabe nessa performatividade. Somos, pessoas negras, uma tela de projeção de desejos e terrores, que, se fogem à coreografia das cordas que manipulam o objeto, pagam o preço do apagamento, da marginalidade e da condição de maldito. Mais uma vez a temporalidade auxilia na sensação dessa condição.
“A invisibilidade, deixe-me explicar, dá à pessoa uma noção ligeiramente diferente de tempo. Você nunca está sincronizado. Às vezes está à frente, outras, atrás. Em vez do fluxo rápido e imperceptível do tempo, você tem consciência de seus nodos, aqueles pontos em que o tempo fica parado ou a partir dos quais dá um salto. Você escorrega nas pausas e olha à sua volta.“
Ralph Ellison. O homem invisível. p.35
Fomos ensinadas/os a buscar e dar sentido para as coisas, sentidos unilaterais impermeáveis que se sustentam de forma convincente, mais através da negação do que da afirmação. A mutabilidade das formas é assustadora para nossa espécie, no entanto, felizmente, ela é apenas tudo o que existe. “Tudo muda o tempo todo no mundo” como canta o pop estóico de Lulu Santos.
O sincretismo de invenção das culturas negras aponta então para um anti-essencialismo em relação a crer em uma unidade que possa conter as experiências estéticas de toda negridade diaspórica e continental. A condição de invenção é uma afirmação de que não há como buscar uma identidade absoluta para essas expressões. Podemos apenas assistir seus processos e dançar com os dinamismos de uma metafísica sonora negra que simboliza a si mesma como um complexo fluxo de liberdade, capaz de chegar a todos os lugares e ecoar a si mesma, através da diferença e da conexão contextual, reterritorializando-se e habitando um horizonte de interpretação. Formas mutáveis e não conteúdos fixos. Um horizonte escuro sempre à vista orientando o caminho, mas nunca ao alcance de nossas determinações.
Essa interpretação ritualística aponta aspectos, mas não estabelece limites. Rituais transmitem, informam, formam, caracterizam, imprimem e renovam legados. A imanência do rito, ou seja, aquilo que dele se compreende e se apreende, é um proceder, como dizem os Racionais MC’s. Um ethos, como pontua Leda Maria Martins. Uma ética vestida de estética em um processo que realiza e dinamiza a transmissão da energia vital na comunidade sonora, através da conexão musical, criando formas de existência e pensamento. A música negra nunca será apenas música. Ela engloba todas as performances do som, do gesto, do corpo, da escuta, do símbolo, da palavra. Complexidade, fluidez e disciplina em um conjunto de estratégias que são ao mesmo tempo lúdicas, funcionais, existenciais e espirituais.
Referências bibliográficas
ALBUQUERQUE, G. G. Paulinho da Viola: vanguarda?. Acesso em: 9 jun. 2025.
DIAS, Vitor do Carmo Gomes. Temporalidade e Modernismo no Teatro Experimental do Negro (décadas de 1940 e 1950). Acesso em: 9 jun. 2025.
FERNANDES, Dmitri Cerboncini. A rainha Quelé: raízes do empretecimento do samba. História: Questões & Debates, Curitiba: Editora UFPR, v. 63, n. 2, p. 131–160, jul./dez. 2015.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34, 2012.
HAN, Byung-Chul. O desaparecimento dos rituais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.
HERMÓGENES, João. Classic Review: Racionais MC’s – Nada Como Um Dia Após O Outro Dia. Acesso em: 9 jun. 2025.
HIRSZMAN, Leon. Partido Alto. Filme, 1982. Acesso em: 9 jun. 2025.
INÁCIO, Rômulo A. Fora da temporalidade: The Art Ensemble of Chicago e a Práxis Criativa Negra. Acesso em: 9 jun. 2025.
INÁCIO, Rômulo. Fred Moten e a vanguarda sentimental negra. Acesso em: 9 jun. 2025.
LEWIS, George E. Improvised music after 1950: Afrological and Eurological perspectives. Black Music Research Journal, Chicago: Columbia College Chicago; University of Illinois Press, v. 16, n. 1, p. 91–122, Spring 1996. Acesso em: 9 jun. 2025.
LEWIS, George E. A power stronger than itself: The AACM and American experimental music. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
MARTINS, Leda Maria. Afrografias da Memória: o reinado do Rosário do Jatobá. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza Edições; São Paulo: Perspectiva, 2021.
ROSE, Tricia. Barulho de preto: Rap e a cultura negra contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 2021.
SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
STEINBECK, Paul. Message to our folks: The Art Ensemble of Chicago. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.