
Reflexões em uma noite no buteco sobre a música no mundo, contatos, aproximações, apropriações e resistências. Com seus olhos no punk, Sarine se pergunta: o que seria uma música nacional?
Marian Sarine, é um multi-instrumentista, com foco principal em percussão e bateria. Conhecido pelo seu trabalho como baterista/percussionista no DEAFKIDS, também se apresenta como artista solo, bem como em parcerias e colaborações com uma ampla gama de artistas e atos. Em mais de 15 anos de carreira, Sarine excursionou extensivamente, tanto no Brasil quanto no exterior por países como Chile, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Peru, Portugal e Suécia.
Ilustração de Helena Obersteiner
dedicado a Edmilson Gaspar de Melo, meu pai (in memoriam)
Estou num aniversário de uma amiga, num badalado bar da Santa Cecília. Entre drinks, risadas e uma moral pro mano vendendo camisetas, ouço a irrecusável “Sultans of Swing”, hino do Dire Straits, emanando de um bar do outro lado da rua, após uma seleção miscelânica de música brasileira. Nesse momento, eu e os outros presentes conversamos, enquanto prestamos atenção nos licks e riffs que completam os versos da música, ansiosos pela chegada do tão consagrado solo, cantado por tantas pessoas ao redor do mundo como se letra tivesse.
Eis que, perto do aguardado clímax, o som é interrompido, trocado por um som mais notadamente “brasílico”, nos tirando do torpor da espera, e nos devolvendo com atenção total ao assunto do momento. Aqui, agora, tal escolha parece ter claros contornos políticos – até então, no ambiente reinava a “brasilidade” e os sons canônicos dessa identidade. Trata-se então, de manter a atmosfera conectada com essa sintonia.
E ao final, esse não é um projeto passível de ser protegido? A indústria cultural brasileira – e principalmente brasilianista – cora em comparação com os números e o alcance do poderio de um soft power made in USA. Os espólios da pouca disponibilidade e faz-me-rir restantes em circulação são então disputados em bloco, via investimento monetário pesado, seja em artistas com cacife pra movimentar números (reais ou inflados) em poucas plataformas – cuja remuneração e controle estão longe das nossas mãos – seja por sistemas antigos de compadrio típicos do ramo, pela manutenção do domínio da difusão em rádio, TV e mídia “clássica”. Velhos e novos sistemas de mecenato e troca de influência convergem em função de morder as fatias finas que sobram, de um bolo cada vez mais diminuto.
A situação atual é a de um mercado da atenção no qual a atomização e a super-especificidade dificultam a criação de um cânone comum. Paradoxalmente, tudo é exposto sem barreiras e supostamente sem filtros, mas com a benção dos donos das roletas de cassino do algoritmo, que gerenciam a exposição como um todo – se impondo como os novos atravessadores do acesso à música. Logo, faz sentido que se queira proteger algum senso de identidade a que está ligado esse sentimento que triunfou nessas indústrias no passado. Ou, então, do que necessita ser içado de volta à consciência coletiva… Certo?
Daí eu penso: o que faz com que eu veja todo esse cenário… de fora? Minhas experiências com a música, tanto do chamado pessoal da coisa, quanto da labuta diária, vieram todas coloridas pelas lentes do punk. O contato com o faça-você-mesmo e esse underground tão denso, variado e colaborativo, mas também tão uniforme no seu ethos, nos seus compromissos e comprometimentos – aprender a fazer fazendo/fazer porque há de se fazer – me nutriu, me inspirou e me embalou, tanto no frisson de realizar algo que carregasse a gana febril, o sorriso selvagem e a paz terrível, quanto na inspiração em inventar a qualquer custo, mesmo quando tal invenção era a prática comum. Realizar turnês, organizar shows, ver palco onde outros veriam um quarto de casa, saborear a celebração das multidões, ora de 10, ora de 5.000. Todas essas coisas aprendi como espectador de um meio onde se vê também com mãos e pés, perpetuando o ciclo. Mesmo aprender a básica disciplina de ouvir música ativamente, como busca, e beber nesse poço até verter água nova. A ambição humilde de quem quer botar fogo no mundo, mas não quer fazer isso sozinho.
O compromisso com essa forma estrategicamente feral de organização foi inclusive o que fez com que, ao longo da vida, as limitações estéticas de formas cristalizadas pelos gêneros e convenções estabelecidas passassem a me incomodar, como roupas que já não me cabiam mais. Como na genialidade de Crizin da ZO, “Eu já pensei/que dava pra ser Ian Mckaye/sendo latino-americano”. Será que toda a minha interioridade e sentimentos, entre colonizações, diásporas, divisões internacionais do trabalho… Cabem realmente em três instrumentos apenas, expressas dessa forma necessariamente?
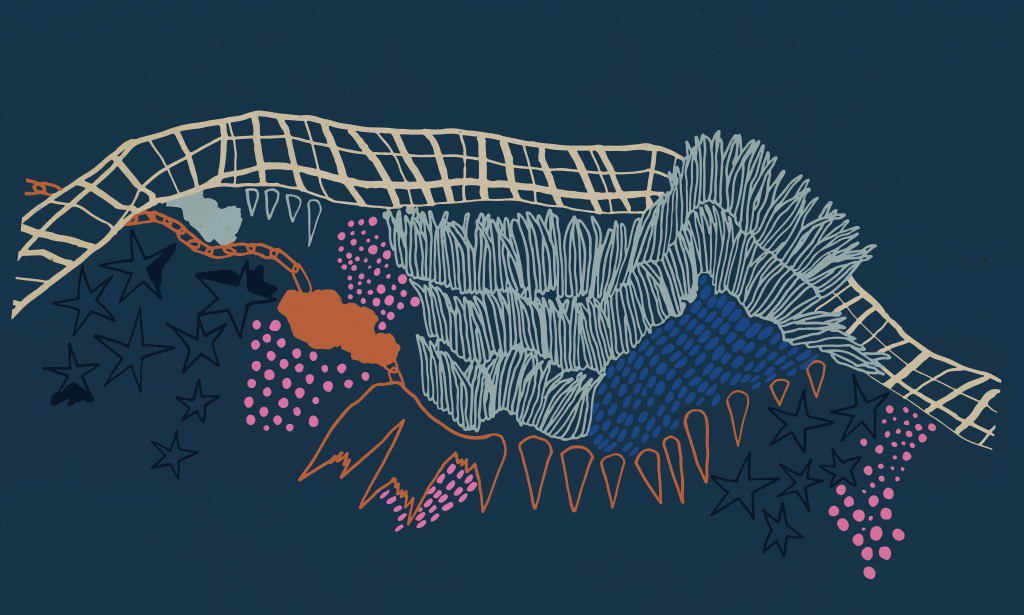
Surge aí a urgência de inventar o punk que vem, o futuro do agora, não mais compromissado com um parecer estético, mas com a ética que reafirma a vida com gana febril, mesmo no seu momento de mais candura. De redescobrir as músicas do mundo, tradições que sempre carregaram essa forma de estar. De tomar para si o que se sabe que é seu, sem a intenção de reproduzir a voz do outro, mas também sem a reverência incapacitante que torna a criação uma citação, uma homenagem. Aos trancos e barrancos esse modus operandi me joga por aí, pra cima e pra baixo. Um pobretão internacional, ermitando domiciliado.
Eu penso nos contextos em que essa jornada tanto encantada quanto trabalhada e trabalhosa me apresentou. De bateria em cadeiras dobráveis de bar a palcos em formatos de orelhas, de Beléns a Berlins, a quantidade de modos de operação e realidades possíveis me assombra… O imperativo material e a lógica pós-colonial fazem com que existam lugares onde o equipamento, o engajamento, a consolidação dessa autonomia seja algo banal, onde topar com o desconhecido é o mais conhecido que há. Existe uma nacionalização do cosmopolitismo como prática e lógica que cerca as pessoas. É normal ser desafiado, cultivar o embate. Ver uma apresentação oriunda do outro lado do mundo é lugar-comum. Testemunhar a novidade estética faz parte da agenda local.
Ao mesmo tempo, muitos desses lugares não possuem heranças musicais urbanas, contemporâneas pra chamarem de suas. A música eletrônica de inúmeras pistas ao redor da Europa, mesmo com sua história e particularidades locais, ainda bebe de uma base rítmica e composicional diaspórica estadunidense –, assim como o rock e seus mil subgêneros, o hip-hop, etc., em cada caso com a sua particularidade. Não quero dizer que não há nada nacional na forma como essas formas de música se organizam nesses locais, mas que é muito mais fácil perceber tal linha do tempo. Ou você faz música típica, “antiga”, ou está conectado com essas formas de contemporaneidade. O que não aparenta ser um problema. Não é difícil para essas pessoas enxergar essa identidade, mesmo através de formas nada “nacionais”.
Comparemos tal cenário europeu com como foram formadas as expressões musicais de países diaspóricos, onde a consolidação de uma música verdadeiramente local (e da consciência dela) foi tomando forma concomitantemente com a formação das cidades. Um cozido de muitas mãos, algumas chegando com a panela já no fogo.
Se considerarmos o papel da música estadunidense, brasileira, cubana e jamaicana (pra citar poucas) para a indústria musical do século XX, veremos o alcance e influência que tais formas localmente globais tiveram sobre a estética do mundo. Uma música explicitamente mais “mundializada”, mais entremeada e intercruzada, mesmo que o peso das forças estabelecidas tente determinar à força o que é válido e o que é “baixo” (com a resistência subsequente tensionando de volta). Nesse contexto, fazer estética da revolta é se permitir existir. Não é nada de novo, e exemplos não faltam no Brasil. Aconteceu com o samba, acontece com as diferentes formas de funk brasileiro, extensamente estudadas por DJs estrangeiros em busca do último grito.
Dentro dessa lógica, faz sentido que formas construídas a duras penas, via sangue e suor, busquem a sua preservação, e, portanto, se manter mais tradicionais, baseadas nos acordos assumidos por aqueles que carregam a chama. Ao mesmo tempo, o Brasil tem toda uma herança de radicalidade e vanguardas, muitas vezes ignorada pelo grande público. Uma história de gêneros cravejados de uma mundialidade irreverente e focada, como são as versões de música estrangeira abrasileiradas via paredões, o funk já metalinguagem, no minimalismo das suas claves, e com suas variantes de estado em estado… Há toda uma trajetória de pessoas conectadas com formas estéticas supostamente contraditórias, que perceberam que uma rachadura não só separa dois hemisférios, como os une, tornando-se assim pontes para o possível. Entre Jorges Bens, Kikos Dinuccis, Jocys de Oliveiras, Pedros Santos, Juçaras Marçais, há novidade numa antropofagia determinada, não encantada com um mito fundacional de paz social, mas interessada tanto na constatação do caos da experiência pós-colonial, quanto investigativa de porvires possíveis, do neurosamba, do futuro primordial. De pontes entre o maracatu e a música gnaoua do Marrocos, entre o juju nigeriano e os toques do atabaque à brasileira. Resgatar o tradicionalismo da mundialidade, a existência de uma disciplina punk, atrelada ao mais original da mistura.
Temos um impasse. Nos lugares onde o cosmopolitismo é vivido diariamente, e acessar o planeta via palco é o que se chama de uma quarta-feira comum, temos uma dependência de formas com CEP identificável, de remetente legível. Nos lugares em que a experiência da criação é em si uma manifestação de mundialidade feroz, tal cosmopolitismo é restrito a quem tem a senha da porta, ou a quem consegue comprar as chaves. Acessar o de fora é correr o risco de se perder.

Enquanto pago a minha conta e rumino meus pensamentos, me indago – por que esse capítulo da batalha do cabo AUX me impactou tanto? Qual o interesse em manter essa narrativa de brasilidade intacta? Esse foi de fato o interesse expresso nessa troca?
Em 20 anos de produção de maluquice, eu sei muito bem como há formas de música que têm anos de consolidação, mas que devido a uma barreira de inteligibilidade, não são vistas como vanguardas válidas, passíveis de exploração, modificação e mescla, desconsideradas em sua possível brasilidade – mesmo por quem julga ter as chaves criptográficas pra abrir esse segredo.
Não é nada de novo. Aconteceu com o samba, acontece com o funk.
Acho que me incomoda é o paternalismo.
A ideia de que a brasilidade é esse negócio com começo, meio e fim. Que uma canção estadunidense, com seus contornos de influência caribenha, não podia expressar nada de relevante identitariamente. No afã de dar às pessoas o que elas querem, negamos a produção do futuro. Ninguém nunca quis o novo – ele aparece, e produz a própria demanda.
Óbvio, nem tudo é sobre o novo. Há o que ser preservado, e protegido. Mas se há interesse no que vem, em promover o encontro, então que assim seja!
Ter coragem é considerar o outro no processo, mas não se limitar por ele. Pautar e não ser pautado. Não subestimar a capacidade da audiência ao tentar agradá-la, mesmo que a suposta audiência seja um mero constructo mental.
Pra falar a verdade, eu devo estar viajando. Eu nem sei se o interesse da pessoa era esse mesmo… punk, Belém, Berlim, funk, globalidade local, localidade global… devem ser esses tantos chopes que me gelam o bucho falando nesse momento.
Mas enquanto volto pra casa, não consigo não dar uma bela gargalhada mental – tem algo mais brasileiro que Sultans of Swing torando de dentro de um buteco?
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.