
A música brasileira mantém sua liderança na preferência dos ouvintes no Brasil, desafiando a lógica global do streaming. Paula Carvalho navega nesse cenário num país que já não quer uma música popular de conciliação
Paula Carvalho é jornalista e socióloga. Pesquisadora do Núcleo de Sociologia da Cultura da USP, estudou rap paulista no mestrado e agora, no doutorado, pesquisa músicos brasileiros que foram para os Estados Unidos nos anos 1960 e 1970. Colaborou em veículos como o jornal Estadão e as revistas Bravo! e Quatro Cinco Um.
Ilustração de Helena Obersteiner
O jargão atual entre os executivos do streaming é que nós, brasileiros, somos glocais. Apesar de artistas norte-americanos serem considerados “globais” em relatórios da indústria musical, nós não temos nenhuma Taylor Swift ou Drake entre os 50 artistas mais ouvidos no país. Como costuma acontecer regularmente, no primeiro semestre de 2025, tivemos apenas três artistas estrangeiros entre as 50 músicas mais ouvidas no país, segundo a Pró-Música, sendo que somos o 9º país no mercado mundial, com um faturamento total de R$ 3,486 bilhões em 2024.
O que explica essa força constante da música brasileira, apesar do cenário cada vez mais concentrado e globalizado, com músicas do mundo inteiro disponíveis a poucos toques de dedo?
Muitas justificativas podem ser oferecidas para este fenômeno. A particularidade da nossa língua em especial, mas também o desenvolvimento de uma grande estrutura da indústria cultural, impulsionada especialmente no período da ditadura civil-militar1, interconectando a música com outras redes como a TV, o rádio, a publicidade, o cinema, também capilarizadas nacionalmente. Além disso, basta dar uma olhada nos textos mais programáticos de Mário de Andrade para entender que esse processo foi construído desde o início de movimentos modernistas, e em especial durante o governo/ditadura Vargas, para colar na produção musical uma ideia de nação2. E se os efeitos dessa proposta se estenderam pelo século 20, como afirma o historiador Marcos Napolitano ao propor a ideia de um “longo modernismo” que vai até os anos 1980, podemos verificar ecos dessa construção até hoje, mas numa nova chave.
A partir de meados dos anos 2010, o cenário da música, tanto global como nacionalmente, se modificou em dois pontos cruciais. Primeiro, com a verticalização e concentração das plataformas de streaming conseguindo driblar a pirataria, a indústria voltou a crescer. E aqui, representantes de gêneros considerados periféricos ou com forte marca regional, historicamente marginalizados da articulação dominante da música brasileira, tornaram-se líderes de reproduções e visualizações, como já destacaram diversos pesquisadores3.
O cenário em que esses gêneros floresceram nos anos 2000 e 2010 foi mudando. Entre as tendências do mercado do streaming, que hoje representa 88% da receita nacional da indústria e 69% da global, o Brasil chama a atenção por ter um consumo glocal consolidado. Só que, a cada dia, fica mais nítida a lógica de desmantelamento das estruturas de autor a que se propõem as plataformas digitais, sobretudo as atreladas às big techs: insistem na desregulação, desafiam as legislações nacionais e remuneram pelo bolo global.
Apesar do ambiente globalizado de circulação da música gravada no streaming, os sistemas de propriedade intelectual seguem em sua maioria orientações dos Estados nacionais: registros, arrecadação, fiscalização, além da legislação de cada país. Creio que essa estrutura também marca uma relação entre os grupos simbolicamente dominantes e dominados na história da música brasileira – e, sem querer fazer uma geleia conciliadora aqui, uma hipótese é que essa soma resulta na força persistente do mercado nacional.
No cenário atual da indústria musical, em que a estrutura de produção foi bastante desmontada, ou ao menos desmembrada, importa mais a quantidade de plays dados nas músicas, acompanhando a lógica de “visibilidade” que hoje permeia tantas áreas através do cenário dos influenciadores, número de seguidores, virais. Também importam mais as condições de circulação do que de produção. “Enquanto nós nos perguntamos do início”, canta Caetano Veloso em Anjos, “Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão”. Ainda que a força de uma Billie Eilish, a Miss Eilish da canção, seja grande4, outros contextos mediadores são fundamentais para que ela consiga pousar no Brasil.
O termo glocalization foi cunhado pelo sociólogo Roland Robertson em 1995 para tratar de adaptações e apelos “locais” em cenários globais, como o aparecimento de supermercados “étnicos” na Califórnia. Em 2023, pesquisadores da London School of Economics retomaram a ideia para estudar uma tendência pouco usual em países europeus: consumidores da Inglaterra, Itália, Alemanha, Polônia e Suécia estavam ouvindo mais músicas locais do que as usuais “globais” norte-americanas.
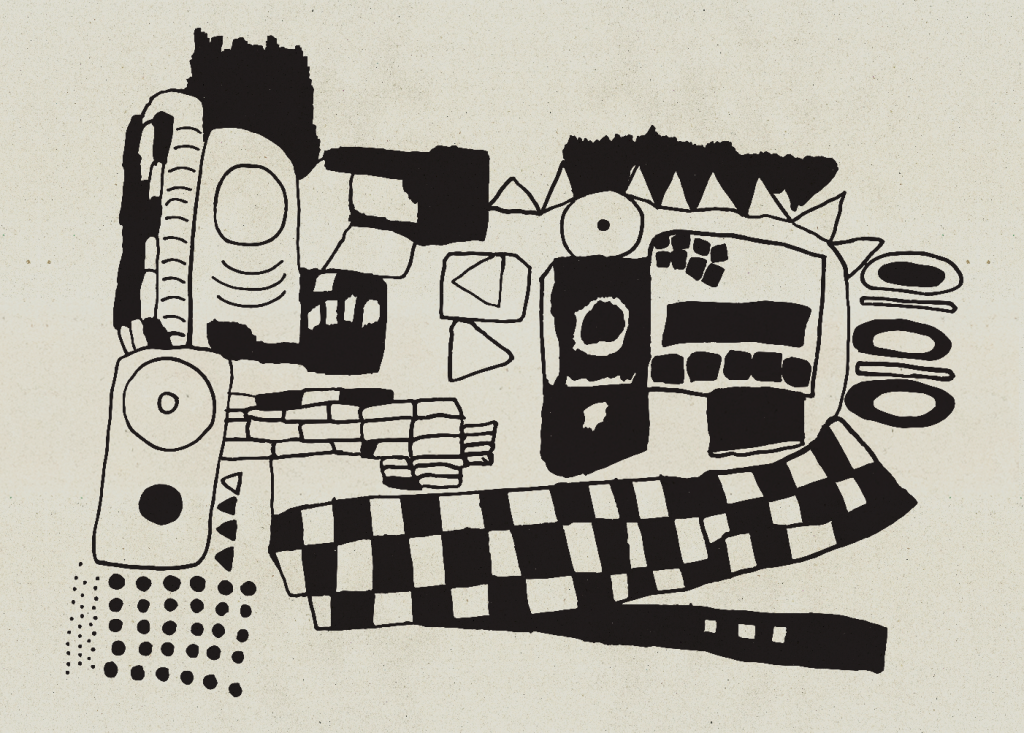
Os economistas Will Page e Chris Dalla Riva observaram a evolução nas paradas dos 10 artistas mais ouvidos em países europeus entre 2012 e 2022 para verificar o aumento de músicas produzidas nacionalmente em cenas que tinham por hábito escutar mais músicas estrangeiras. Um dos fatores que ajudam a explicar essa mudança é a língua, sendo a Espanha a mais “bairrista” dentre os países analisados: em 10 anos, o país passou a ouvir só músicas cantadas em espanhol no top 10. Porém, com a maior parte de artistas da América Latina.
Um especial da Folha de S. Paulo de 2019 constata a mesma situação no Brasil, com a análise de dados de hits do Spotify: brasileiros são os que mais ouvem a música do próprio país, que é o mais isolado musicalmente, comparado, por exemplo, a cenas da América Latina ou de língua inglesa, em que diversos países ouvem artistas em comum.
Ainda que a indústria cada vez mais busque direcionar o jogo para uma lógica global – um exemplo são as dancinhas no TikTok, que não se restringem a uma língua –, contextos locais ainda parecem importar. É a presença numa série de televisão, num filme, numa publicidade, no story de um jogador de futebol, na balada, no carro tunado, no paredão, numa casa de shows do bairro. Essa articulação entre os sistemas da indústria cultural se renova, mas não perde a importância.
Vale destacar que são gêneros considerados periféricos ou com forte marca regional, como o sertanejo, o funk, e as variações de ritmos nordestinos, como forró, bregafunk e pagodão, os mais ouvidos no país – parte desse circuito designado pela pesquisadora Simone Pereira de Sá como “Rede de Música Brasileira Pop Periférica”5. Em sua pesquisa, ela também mostrou a importância da articulação dessa rede em diversos sistemas, em especial o dos videoclipes, em uma circulação pós-MTV, via YouTube. Era o período da consolidação de grandes canais de funk como o GR6 e o de KondZilla, cujo dono, Konrad Dantas, hoje também produz seriados como o “Sintonia”, na Netflix, que veicula a cultura do funk e das periferias de São Paulo.
Ao observar a dominância do funk brasileiro entre canais mundiais do YouTube, os pesquisadores Jeder Janotti Jr. e GG Albuquerque notam também que há uma espécie de “mainstream paralelo” que coloca em evidência “rastros de sonoridades periferizadas, músicas provenientes de classes econômicas mais baixas ou raças subalternizadas, que foram social e culturalmente silenciadas”6.
Temos um tanto de história para contar em relação a esse jogo entre o local e o global no mercado de música. Entre os anos 1960 e 1970, período de grande crescimento da indústria cultural no Brasil, articulações entre executivos (que trabalhavam nas multinacionais), músicos, editores e produtores conseguiram que as isenções de ICM (hoje o ICMS) conquistadas pela indústria do disco fossem reinvestidas na produção nacional. Para os produtores discográficos e pesquisadores desta época, este incentivo tornou-se “o coração da indústria do disco” (na aspa do então consultor jurídico da Phillips, João Carlos Muller Chaves)7. Além disso, foi estruturada uma nova Lei de Direitos Autorais, promulgada em 1973, que estabeleceu, entre outras coisas, que se unificasse a forma de arrecadação e recolhimento de taxas por direito autoral de diversas associações de direitos musicais, instituindo-se assim o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).
Embora haja uma grande discussão sobre o formato do Ecad, que não caberia adentrar agora, este escritório, especialmente após a sua reformulação nos anos 2010, tornou-se, de certa forma, um contraponto ao circuito das big techs. Em 2024, a sociedade registrou 345 mil beneficiados (sendo 104 mil nacionais), e R$ 1,5 bilhão distribuído (62% para o repertório nacional, segundo o escritório).
Do bolo total, dominado pelo streaming e as grandes companhias de tecnologia, uma parte significativa passa pela gestão de direitos de autor, seja através das próprias plataformas8, ou pelos direitos referentes a execuções públicas – shows, festas ao ar livre, músicas tocadas em estabelecimentos comerciais, e principalmente veiculadas na TV, streaming, cinemas (que representaram R$ 386 milhões em 2024, 11% do total).
Enquanto o modelo de pagamentos de direitos das plataformas de streaming gera entre $0,00069 e $0,01 dólar por stream – isto é, para se chegar num valor próximo ao do salário mínimo brasileiro, são necessárias cerca de 60 mil reproduções no Spotify, ou 25 mil na Apple Music –, o Ecad cobra através da receita bruta dos usuários, de tabelas de rádio ou da Unidade de Direito Autoral (uma medida, normalmente, por metros quadrados do espaço público), em que essa UDA vale, em 2025, R$ 102,51. Os números são mais tangíveis, e a dispersão não é infinita como a do streaming, em que todo dia chegam aos serviços centenas de milhares de novas músicas, disputando e alterando o valor do play.
É a contradição entre esses dois circuitos – o da música pop periférica, mais ligada ao cenário global, e o das articulações em sociedades de autoria e toda sua estrutura jurídica, num contexto nacional – o que vale maior reflexão para mais esse caso ornitorríntico brasileiro.
O grupo historicamente dominado no campo da música popular tem a sua vez no cenário global, impulsionado por uma estrutura nebulosa de inserção no mercado digital em que quem ganha mesmo são os grandes agentes do mercado e empresas de tecnologia. O grupo dominante, por sua vez, vê as estruturas de consagração cultural para além da lógica econômica minguarem, engolidas pelo esquema do algoritmo e dos dados que regem cada vez mais a dinâmica da indústria musical.

O marco da criação do Ecad, relembrado acima, registra um momento histórico nas discussões sobre o estabelecimento dos direitos de autor no Brasil9 para o caso musical. A articulação em torno de regulações e legislações nos anos 2000 e 2010 – Marco Civil da Internet, Lei do Ecad, Sistema Nacional de Cultura e a chamada PEC da Música – se mostram bastante relevantes no contexto de extrema verticalização do esquema de remuneração do streaming. A reestruturação do Ecad no início dos anos 2010, ainda é pouco discutida: se hoje em dia só os muito ouvidos concentram o grande dinheiro direto de direitos autorais nas plataformas, dividido ainda pelo montante global, tornou-se ainda mais importante o aumento da transparência e a distribuição de direitos autorais através deste escritório no Brasil.
Agentes envolvidos nestas discussões, tanto nos anos 1970 como nos anos 2010, com a CPI do Ecad – articulações de personalidades públicas reunidas em entidades civis e associações como a Procure Saber, liderada por Paula Lavigne, em que também participaram Chico Buarque, Djavan, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Marisa Monte, Roberto Carlos10; o Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP)11 e outros surgidos a partir das discussões sobre políticas culturais nas gestões de governos petistas no Ministério da Cultura – foram fundamentais, mas os grupos parecem repetir uma representação dos “simbolicamente dominantes” no campo da música popular brasileira, ainda que um pouco mais aberto do que nos anos 1970 se pensarmos na articulação do grupo Fora do Eixo12, por exemplo.
É a ‘“rede de música periférica” que tem sabido melhor como navegar no cenário digital, e suas articulações no “mainstream paralelo” foram fundamentais para que ela se consolidasse durante os anos 2010. Mas, por exemplo, só em 2024 foi instituído pelo governo federal o Dia Nacional do Funk. Salvo em raros casos, “ativações” de marca em festivais – e a própria programação – incluem estes gêneros periféricos em seus patrocínios. Mesmo quando apoiados por governos locais, como é o caso do projeto “Salvador Capital Afro”13, para apoiar eventos culturais de pessoas negras no mês de novembro, não houve em 2023 patrocínios de marcas brasileiras ao programa. Neste ano, a Feira Preta, em São Paulo, passou pela mesma falta de incentivos. Alguns dos impasses para que essas músicas periféricas consolidem e ampliem seus espaços na sociedade brasileira tem mesmo a ver com tomadores de decisão, sejam eles políticos, juristas, executivos do mercado, pessoas que estudaram na mesma escola (ou conhecem alguém que conhece alguém…). Poze do Rodo que o diga.
No livro Making samba: a new history of race and music in Brazil, o historiador Marc Hertzman mostra como a maioria de músicos populares negros foi marginalizada na criação e consolidação de estruturas como a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), a primeira associação a defender direitos de autor criada em 1917, que na época abrangia também outros artistas além do teatro. Não é nova a dicotomia entre uma articulação mais ligada a camadas dominantes da sociedade (em áreas que não só a música, vale lembrar) e outra de artistas tidos como mais “comerciais”, “populares”, etc.
Agora, com outras ferramentas, a rede de música periférica se estrutura e se articula para além das fronteiras nacionais e com uma força que a estimula globalmente – mas essa estrutura de circulação não deveria contar apenas com boa vontade de big techs. O grupo relativamente “dominado” no campo da música popular, especialmente quando se fala em corpos historicamente marginalizados, tem direito ao apoio de Estado nas suas produções, e a políticas transversais de reparação, que mexam nas estruturas das socializações e acessos a posições de liderança.
Por isso, há uma soma não conciliadora. O fato de ouvirmos mais música brasileira – por fatores como a língua, a particularidade da cultura, a construção modernista, a articulação com outros sistemas de produção artística também enraizados no país – não quer dizer que haja uma grande concorrência entre MPB e funk, por exemplo. Os gêneros têm seus espaços, nosso público é eclético, e há diversas formas de compartilhar sua importância no jogo.
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.